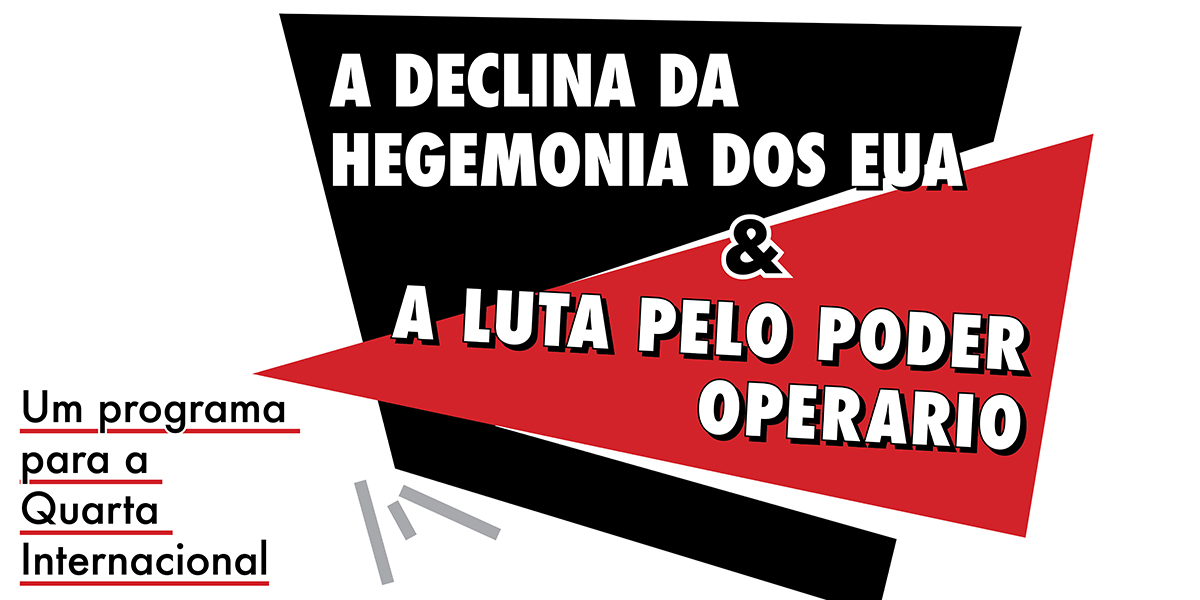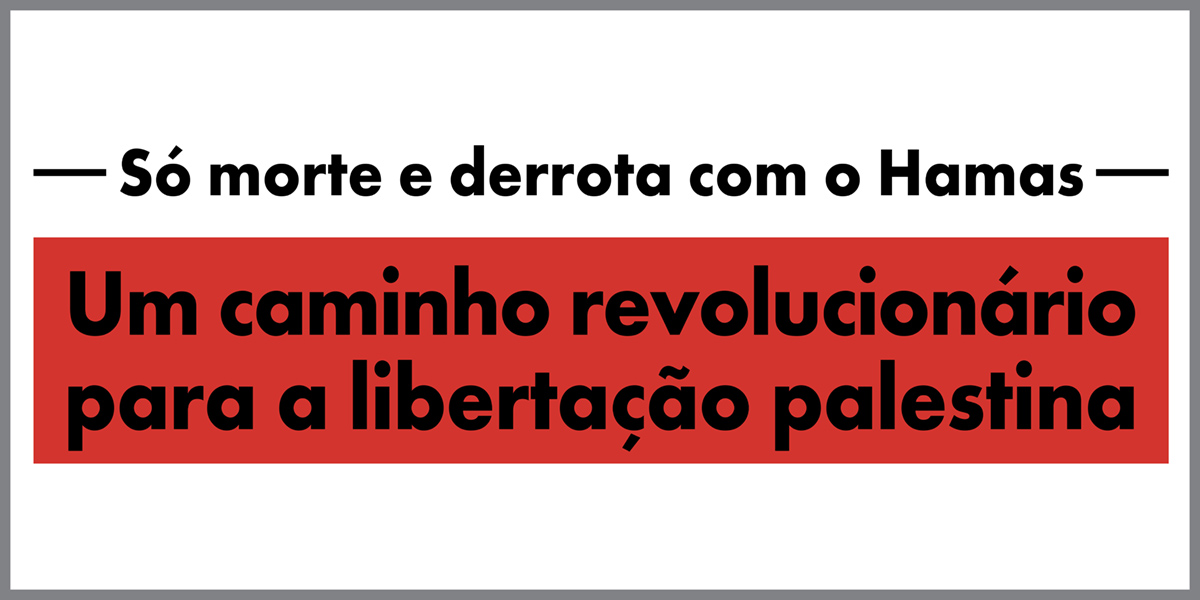https://iclfi.org/pubs/icl-pt/suplemento/permrev
O que é a revolução permanente?
A época do imperialismo é caracterizada pela divisão do mundo entre um grande número de países oprimidos e um punhado de países opressores que são económica e militarmente dominantes. A atual situação mundial é caracterizada pela hegemonia do imperialismo americano que, em aliança com as outras potências imperialistas (Alemanha, Grã-Bretanha, França, Japão), subjuga a enorme massa da população mundial através da exportação de capital financeiro. Os velhos tempos dos impérios coloniais, com a sua pilhagem nua e crua das colónias, cederam o seu lugar à pilhagem de países formalmente independentes, mas que na realidade são neocolónias ou estados dependentes mantidos em cativeiro pela chantagem económica e militar das “grandes” potências.
Na maioria dos países da África, Ásia, América Latina e Europa de Leste, não é a burguesia nacional mas os imperialistas que controlam e ditam todos os aspectos da vida económica e política, obstruindo e impedindo o desenvolvimento económico, nacional e cultural. Os empréstimos, a espoliação dos recursos naturais, a mão de obra barata, a política monetária, etc., são todos meios através dos quais a oligarquia financeira e os monopólios imperialistas reforçam o seu domínio, cobram impostos a toda a sociedade e mantêm estes países num estado de miséria.
Nestes países, a indústria moderna é um produto do capital estrangeiro. A tecnologia de ponta na indústria e na agricultura está lado a lado com relações sociais pré-capitalistas. Fábricas, caminhos-de-ferro, minas e portos brotam do solo onde os búfalos e as ferramentas de madeira ainda lavram a terra. O papel dominante desempenhado pelo capital estrangeiro confere à burguesia nacional um carácter extremamente fraco: só parcialmente consegue atingir a altura de uma classe dominante e, por isso, permanece presa numa posição de classe semi-dominante e semi-oprimida. Ao mesmo tempo, o capital estrangeiro proletariza a população, criando uma classe operária que passa a desempenhar um papel central na vida do país. A criação de sindicatos poderosos e, frequentemente, de partidos da classe trabalhadora representa uma força poderosa que pode fazer frente à exploração imperialista e confrontar burguesias e governos nacionais frágeis.
O atraso da economia nacional, a corrupção total dos governos locais, as inúmeras divisões étnicas e religiosas, a sobrevivência de relações pré-capitalistas: todas estas condições, mantidas e reforçadas pela dominação estrangeira, criam um laço inseparável entre a libertação social das massas trabalhadoras e a emancipação nacional. É a resistência a esta miséria e humilhação nacional, bem como as aspirações à terra, à democracia e ao desenvolvimento económico, que impulsiona a luta das massas operárias e camponesas, conferindo às suas reivindicações mais básicas um carácter explosivo.
O desenvolvimento e a modernização dos países neocoloniais requerem a resolução de tarefas democráticas básicas; o desenvolvimento da indústria nacional e de um mercado interno requer a unificação e a emancipação nacionais, bem como a reforma agrária. A burguesia nacional tem um interesse objetivo na resolução destas questões, a fim de elevar ainda mais a sua posição social como classe dominante. Mas cada uma delas exige o confronto com a subjugação imperialista. Dada a sua fraqueza em relação aos imperialistas, quando a burguesia nacional tenta resistir ao capital estrangeiro, é obrigada, em maior ou menor grau, a apoiar-se no proletariado e em toda a nação. Ao mesmo tempo, como classe proprietária, tem consciência de que o proletariado representa uma ameaça aos seus interesses. Para os proteger, vê-se obrigada a apoiar-se nos imperialistas, aos quais está ligada por mil fios. Assim, incapaz de desempenhar um papel independente, a burguesia nacional equilibra-se entre estas duas forças mais poderosas. Trotsky explica:
“Nos países industrialmente atrasados o capital estrangeiro joga um papel decisivo. Daí a relativa debilidade da burguesia nacional em relação ao proletariado nacional. Isto cria condições especiais de poder estatal. O governo gira entre o capital estrangeiro e o nacional, entre la relativamente débil burguesia nacional e o relativamente poderoso proletariado. Isto dá ao governo um caráter bonapartista de índole particular. Se eleva, por assim dizer, por cima das classes. Em realidade, pode governar ou bem convertendo-se em instrumento do capitalismo estrangeiro e submetendo o proletariado com as cadeias de uma ditadura policial, ou manobrando com o proletariado, chegando inclusive a fazer-lhe concessões, ganhando deste modo a possibilidade de dispor de certa libertada em relação aos capitalistas estrangeiros.”
—“A indústria nacionalizada e a administração operária” (maio de 1939)
Com base no ímpeto dos trabalhadores nacionais e com um equilíbrio de forças internacional favorável, a burguesia nacional pode levar a cabo nacionalizações, reformas agrárias e outras medidas progressistas contra os imperialistas, com o objetivo de defender a independência nacional e desenvolver a economia nacional. A nacionalização do petróleo no México, em 1938, sob o comando de Lázaro Cárdenas, ou a tomada do Canal de Suez pelo egípcio Gamal Abdel Nasser, em 1956, são exemplos clássicos desse processo. Mas a burguesia leva a cabo tais medidas para os seus próprios objectivos e com os seus próprios métodos. Ela procura manter-se à frente da luta de libertação nacional para conter e canalizar as aspirações sociais e económicas dos oprimidos dentro de limites aceitáveis para o seu domínio de classe, de modo a melhorar a sua própria posição como classe semi-governante face aos imperialistas.
As burguesias dos países subjugados estão plenamente conscientes de que uma luta séria contra o imperialismo exige um levantamento revolucionário das massas, o que seria uma ameaça para a própria burguesia nacional. Trotsky escreveu:
“Um movimento democrático ou de libertação nacional pode oferecer à burguesia uma oportunidade para aprofundar e alargar as suas possibilidades de exploração. A intervenção independente do proletariado na arena revolucionária ameaça privar a burguesia da possibilidade de explorar completamente.”
—A Terceira Internacional depois de Lenin (1928) [Tradução do texto em inglês]
Ao mobilizar as massas, a burguesia tem de manter um controlo rigoroso sobre elas—esmagando os partidos revolucionários; mantendo um controlo férreo sobre os sindicatos através da burocracia laboral e, por vezes, integrando-os diretamente no Estado; patrocinando a criação de organizações camponesas controladas pelo Estado, etc. A luta de classes, as tomadas de terra, as tentativas de formar sindicatos e organizações camponesas independentes—qualquer esforço de ação anti-imperialista independente por parte das massas é enfrentado com uma repressão sangrenta. É suprimindo a única força que pode proporcionar uma verdadeira emancipação nacional e modernização—a classe operária aliada ao campesinato—que a burguesia nacional não só impede a revolução social como sabota a luta anti-imperialista a cada passo, traindo-a e abrindo caminho à reação imperialista. Devido aos seus laços com a propriedade capitalista e à necessidade de defender os seus interesses de classe contra as massas proletárias, a burguesia nacional não só é incapaz de resolver as tarefas da emancipação nacional e da revolução agrária, senão desempenha um papel completamente reacionário neste processo.
Só o proletariado, reunindo atrás de si as massas camponesas e a pequena burguesia urbana, é capaz de quebrar o jugo do capital estrangeiro, concluir a revolução agrária e estabelecer a democracia plena para os trabalhadores sob a forma de um governo operário e camponês. Como Trotsky explicou em relação à Rússia em A Revolução Permanente (1929 Introdução à primeira edição russa):
“Cheguei, assim, à conclusão de que a nossa revolução burguesa só podia realizar de fato as suas tarefas no caso do proletariado, apoiado pelos milhões de camponeses, concentrar em suas mãos a ditadura revolucionária.
“Qual seria o conteúdo social dessa ditadura? Antes de mais nada, sua missão consistiria em levar até o fim a revolução agrária e a reconstrução democrática do Estado.
“Em outras palavras, a ditadura do proletariado tornar-se-ia a arma com a qual seriam alcançados os objetivos históricos da revolução burguesa retardatária. Mas esta não poderia ser contida aí. No poder, o proletariado seria obrigado a fazer incursões cada vez mais profundas no domínio da propriedade privada em geral, ou, seja, empreender o rumo das medidas socialistas.”
A chegada ao poder do proletariado num país não completa a revolução, mas apenas a inicia. Para modernizar os países atrasados, para desenvolver uma indústria e um mercado nacionais, para tirar as massas da miséria—tudo isso requer o mais alto nível de tecnologia e produtividade e acesso ao mercado mundial—a divisão internacional do trabalho. No entanto, tudo isto está sob o controlo do imperialismo. Enquanto o imperialismo mundial permanecer, as conquistas de um único país continuam sujeitas à asfixia imperialista e à constante ameaça de reversão. A vitória da revolução neocolonial e o desenvolvimento do socialismo exigem a derrota do imperialismo na arena mundial, ou seja, a extensão da revolução aos centros imperialistas.
Nos países subjugados, o primeiro passo para este objetivo é a formação de partidos revolucionários cuja principal tarefa é arrancar a liderança da luta anti-imperialista das mãos da burguesia nacional. Isto só pode ser conseguido levando a luta pela libertação nacional até às suas últimas consequências, no processo expondo perante as massas todas as vacilações, capitulações e traições da burguesia. Apreender os bens dos imperialistas, sobretudo os seus bancos; expropriar os latifundiários, nacionais e estrangeiros; repudiar a dívida e todos os tratados de comércio “livre”—qualquer ação consistente que faça avançar a luta contra a escravatura imperialista coloca as massas contra a burguesia. Como observou Trotsky, esta classe “tem sempre uma sólida retaguarda atrás de si no imperialismo, que a ajudará sempre com dinheiro, bens e cartuchos contra os operários e camponeses” (“A Revolução Chinesa e as Teses do Camarada Estaline”, maio de 1927). Ele explicou:
“Tudo o que põe de pé as massas oprimidas e exploradas dos trabalhadores empurra inevitavelmente a burguesia nacional para um bloco aberto com os imperialistas. A luta de classes entre a burguesia e as massas de trabalhadores e camponeses não é enfraquecida, mas, pelo contrário, é aguçada pela opressão imperialista, até ao ponto de uma guerra civil sangrenta em cada conflito sério.” [Tradução do texto em inglês]
Ao mesmo tempo, na medida em que a burguesia procura obter concessões dos imperialistas, os revolucionários apoiam essas medidas, mantendo total independência organizacional e política, e procuram mobilizar o proletariado e o campesinato para as levar a cabo com os seus próprios objectivos e com os seus próprios métodos:
Nacionalizações?
Nenhuma indemnização! Ocupem as fábricas, as minas, os caminhos-de-ferro até que os imperialistas cedam!
Reforma agrária burocrática e limitada?
Comités de camponeses para tomar as terras!
Ameaça imperialista de “mudança de regime”?
Armar os trabalhadores e os camponeses!
Em todos os casos, os trotskistas defendem a ação independente das massas no decurso da luta, a fim de quebrar o domínio da burguesia nacionalista.
Para combater a influência da burguesia, é crucial combater o nacionalismo, a principal ferramenta ideológica que ela utiliza para reunir o proletariado e os oprimidos em torno dos seus interesses. O nacionalismo coloca o proletariado contra as minorias nacionais e os seus irmãos e irmãs de classe de outras nações oprimidas, e crucialmente contra a classe trabalhadora das nações opressoras, impedindo a unidade revolucionária na luta contra o inimigo comum, os imperialistas. Mas, para libertar as massas do nacionalismo, é necessário distinguir entre o nacionalismo do opressor, que é uma expressão do chauvinismo imperial, e o nacionalismo do oprimido, uma reação à opressão. Negar esta distinção é negar o desejo de emancipação das massas. O nacionalismo não pode ser derrotado pela pregação de um internacionalismo abstrato. Ele só pode ser vencido na luta, demonstrando a traição da burguesia nacional na luta pela emancipação.
Os interesses do proletariado exigem a solidariedade total dos trabalhadores de todas as nações. Nos países imperialistas, os partidos revolucionários devem imbuir o proletariado da compreensão de que a emancipação das nações subjugadas é do seu próprio interesse objetivo: cada derrota dos imperialistas no estrangeiro reforça a posição do proletariado no seu país. Os trotskistas devem lutar por uma rutura com os social-chauvinistas dentro das fileiras do movimento operário—os defensores da OTAN e da União Europeia, os burocratas sindicais na América do Norte que apoiam o pacto de “livre comércio” USMCA—e com os centristas que mantêm a unidade com os social-chauvinistas. Só assim se pode ultrapassar a desconfiança e os preconceitos nacionalistas nas neocolónias. O inimigo principal está em casa! Expulsar os burocratas sindicais pró-imperialistas! Pela revolução operária nos países imperialistas!
Os partidos revolucionários nas nações oprimidas, ao liderarem a luta contra a opressão imperialista, devem educar as massas trabalhadoras no espírito da unidade revolucionária com o proletariado das nações opressoras. A unidade das nações oprimidas contra o imperialismo não pode ser realizada sob a égide das venais burguesias compradoras, para quem “patriotismo” significa a defesa de sua propriedade privada. Ele só pode ser alcançado sob a liderança da classe trabalhadora aliada ao campesinato. Confiscar todos os bens do imperialismo! Terra ao lavrador! Pela libertação nacional e social!
A experiência tem demonstrado que, em circunstâncias excepcionais, os movimentos de guerrilha de base camponesa são capazes de derrotar o imperialismo num único país e expropriar a burguesia nacional (por exemplo, China, Cuba, Laos, Vietname). No entanto, a vitória de tais movimentos pode levar a nada mais do que o estabelecimento de regimes burocráticos de tipo estalinista que mantêm o seu domínio através da repressão brutal das massas trabalhadoras, enquanto o país permanece sujeito às pressões do mercado mundial. A marca registada destas burocracias estalinistas é a sua firme oposição à extensão da revolução socialista para além das suas fronteiras nacionais, na esperança ilusória de apaziguar o imperialismo. Para defender e alargar as conquistas destas revoluções é necessária uma nova revolução contra estes burocratas. Por isso, as tarefas dos revolucionários acima expostas também se aplicam a essas sociedades: Os trotskistas devem tomar a liderança da luta anti-imperialista das mãos dos burocratas e conduzi-la sob a bandeira do autêntico leninismo. Defender a China, a Coreia do Norte, o Laos, Cuba, o Vietname contra o imperialismo e a contrarrevolução! Pela revolução política contra os traidores estalinistas! Pelo comunismo de Lenin e Trotsky!
O triunfo definitivo contra o imperialismo só pode ser assegurado pela fusão da luta do proletariado nos países imperialistas contra a sua “própria” classe dominante com a luta dos trabalhadores das nações oprimidas contra os mesmos imperialistas e os seus agentes locais.
Trabalhadores de todo o mundo e povos oprimidos, unem-se!
A revisão da revolução permanente pela LCI
Deformado à nascença
Desde o seu início, a abordagem da tendência espartaquista ao problema da revolução nos países neocoloniais e nas nações oprimidas baseou-se numa revisão da revolução permanente. Para compreender como e porquê foi este o caso, é necessário olhar para o contexto histórico e político em que a nossa tendência elaborou a sua abordagem.
O período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi marcado por um recrudescimento das lutas de libertação nacional, alimentado pelo desmembramento dos impérios coloniais britânico e francês e pelo reforço da autoridade da URSS após a sua vitória sobre a Alemanha nazista. O mundo estava dividido entre duas superpotências que representavam dois sistemas sociais rivais: a URSS e o imperialismo americano. Nesta situação, os países oprimidos tinham margem de manobra e muitos procuravam a União Soviética para obter apoio militar e político na sua luta contra o imperialismo. Até ao final da década de 1970, as revoltas abalaram o mundo neocolonial: China, Coreia, Indochina, Índia, Chipre, Argélia, Cuba, mundo árabe, Chile, etc. À cabeça destes movimentos estavam forças burguesas e pequeno-burguesas. Na maior parte dos casos, o resultado foi a independência formal sob o domínio nacionalista burguês, enquanto o jugo da subjugação imperialista permaneceu no lugar.
Ao longo deste período, a estratégia de quase toda a esquerda marxista internacional consistiu em apoiar aberta ou criticamente as lideranças nacionalistas destes movimentos e os seus regimes. A justificação era que a opressão imperialista das colónias e neocolónias dava à burguesia nacional um papel objetivamente progressista e que a vitória das forças nacionalistas equivaleria à realização da revolução democrático-burguesa, abrindo assim o caminho para o socialismo. Com o argumento de que o “processo objetivo” forçaria as lideranças nacionalistas burguesas e pequeno-burguesas ao socialismo, o papel dos revolucionários reduzia-se a empurrá-las para a esquerda. Era este o quadro teórico dos partidos estalinistas e das suas ramificações maoístas, da Nova Esquerda e dos pseudo-trotskistas. (Michel Pablo, ex-dirigente da Quarta Internacional, acabou como conselheiro do governo burguês argelino de Ben Bella.)
Isto era uma negação absoluta da liderança revolucionária da luta de libertação nacional. Se o “processo objetivo” conduziria à libertação e ao socialismo, então não havia necessidade de partidos revolucionários. Na realidade, isto significava amarrar o proletariado e as massas camponesas à burguesia nacional, traindo a luta anti-imperialista e a revolução socialista. Para os revolucionários, o que se colocava era fornecer um programa para a ação independente das massas trabalhadoras para as suas necessidades e aspirações como um meio de fazer avançar a luta anti-imperialista e, no processo, emergir à sua frente em contraposição aos nacionalistas e estalinistas. Só nesta base foi possível expor o programa de colaboração de classes da esquerda como um obstáculo à vitória contra o imperialismo e iniciar um processo de cisões e fusões para construir uma autêntica corrente trotskista.
No entanto, a tendência espartaquista não seguiu este rumo. Confrontados com a liderança burguesa das lutas de libertação nacional e com o nacionalismo de cauda da esquerda, recorremos a uma linha rígida e sectária, denunciando o nacionalismo no mundo neocolonial como reacionário até a medula. Partindo de um impulso correto para nos opormos ao liquidacionismo da esquerda, chegámos criminosamente ao repúdio do núcleo da revolução permanente: colocar a luta pela libertação nacional no centro da estratégia revolucionária para o mundo neocolonial. À parte as frases ortodoxas que resumem a revolução permanente, contrapusemos a libertação nacional à luta de classes e à revolução socialista. Ao fazê-lo, rejeitámos sistematicamente a luta pela liderança comunista da luta de libertação nacional, reforçando o domínio dos nacionalistas e das forças pequeno-burguesas sobre as massas. Este quadro geral equivaleu, no fundo, a uma capitulação perante o imperialismo.
A libertação nacional: Espinho no pé ou alavanca da revolução?
Eis dois exemplos clássicos da visão da tendência espartaquista sobre a questão nacional:
“Em geral, o nosso apoio ao direito à auto-determinação é negativo: oposição intransigente a todas as manifestações de opressão nacional como um meio para a unidade da classe trabalhadora, não como o cumprimento do ‘destino manifesto’ ou ‘herança’ de uma nação, nem como apoio a nações ‘progressistas’ ou ao nacionalismo. Apoiamos o direito à auto-determinação e as lutas de libertação nacional para retirar a questão nacional da agenda histórica, e não para criar outra questão desse género.”
—“Teses sobre a Irlanda”, Spartacist (edicão em inglês) n. 24, outono de 1977
E:
“Nas nações oprimidas dentro de estados multinacionais, a questão de advogar ou não a independência depende da profundidade dos antagonismos nacionais entre os trabalhadores das diferentes nações. Se as relações se tornaram tão envenenadas que tornam impossível uma genuína unidade de classe dentro de um único poder estatal, apoiamos a independência como a única forma de retirar a questão nacional da agenda e trazer a questão de classe para o primeiro plano.”
—“O nacionalismo de Quebec e a luta de classes”, Spartacist Canada n. 12, janeiro de 1977
Esta abordagem da questão nacional baseava-se em considerá-la não como uma alavanca para a revolução socialista mas como um espinho no pé—um problema irritante que precisava de ser removido para abrir caminho à luta de classes “pura”. Isto não tem nada a ver com o marxismo. A abordagem dos revolucionários consiste em usar cada opressão, cada crise, cada ato de resistência para forjar a unidade da classe trabalhadora na luta para derrubar a burguesia. A este respeito, a resistência à dominação estrangeira nos países oprimidos constitui um poderoso martelo para quebrar o imperialismo mundial. Mas em vez de fazer avançar a luta pelo socialismo com base nas lutas sociais e nacionais reais em curso, de uma forma sectária e doutrinária a tendência espartaquista procurou projetar na realidade viva a sua própria versão idealizada da luta de classes, expurgada de quaisquer “inconvenientes” nacionais.
Esta abordagem da questão nacional não é uma novidade na história do movimento comunista. Lenin combateu-a durante toda a sua vida, em particular contra os chamados socialistas que olharam com desdém para a Revolta da Páscoa de Dublin de 1916 e a consideraram um mero “putsch”. Em “A Discussão sobre a Autodeterminação resumida” (julho de 1916), Lenin incluiu uma secção sobre a rebelião irlandesa (que reimprimimos, sem nos apercebermos de que todo o seu conteúdo nos era dirigido). Ele explicou:
“As visões dos oponentes da autodeterminação os fez com que chegassem à conclusão que a vitalidade das pequenas nações oprimidas pelo Imperialismo já foi desfeita, que elas não podem desempenhar qualquer papel contra o Imperialismo, que o apoio à suas aspirações puramente nacionais não levará à nada, etc.”
Embora não rejeitássemos o direito à autodeterminação, toda a nossa abordagem era moldada pela ideia de que nada de bom resultaria do “problema nacional”. Lenin continua:
“Quem quer que chame tal rebelião de ‘putsch’ ou é um reacionário obstinado, ou um doutrinário sem esperanças incapaz de enxergar uma revolução social como um fenômeno vivo.
“Imaginar que uma revolução social é concebível sem as revoltas das pequenas nações nas colônias e na Europa, sem as explosões revolucionárias de um setor da pequena-burguesia com todos seus preconceitos, sem um movimento do proletariado politicamente não-consciente e massas semiproletárias contra a opressão de seus latifundiários, da Igreja, e da Monarquia, contra a opressão nacional, etc.—imaginar isso é condenar a revolução social. Então, um exército se enfileira em um local e diz ‘Nós apoiamos o socialismo’, e outro, em outro local qualquer, diz ‘Apoiamos o Imperialismo’, e isso será uma revolução social! Apenas aqueles que têm uma visão tão ridiculamente pedante podem difamar a rebelião irlandesa chamando-a de ‘putsch’.
“Quem espera uma revolução social ‘pura’ nunca vai viver para vê-la. Tal pessoa fala tanto de revolução sem entender o que é uma revolução.”
Qual é o método para “retirar” a questão nacional da “agenda histórica” senão esperar uma revolução “pura,” “não contaminada” pelos sentimentos nacionais dos povos oprimidos?
A revolução socialista não é uma batalha única, mas uma série de batalhas que se desenrolam sobre uma multiplicidade de questões democráticas, económicas e sociais. Nos países sob o jugo da dominação estrangeira, procurar “eliminar” a questão nacional como condição prévia para a luta socialista significa negar que o estado de subdesenvolvimento imposto pelo imperialismo traz objetivamente para primeiro plano as tarefas democráticas como alavanca fundamental para a revolução socialista. O núcleo da revolução permanente—e a lição central da Revolução de outubro de 1917—resume-se à revolução democrático-burguesa, realizada pelo proletariado revolucionário à frente do campesinato e de todos os oprimidos, que se transforma em revolução socialista. Trotsky explicou:
“A ditadura do proletariado, que sobe ao poder como força dirigente da revolução democrática, será colocada, inevitável e muito rapidamente, diante de tarefas que a levarão a fazer incursões profundas no direito burguês da propriedade. No curso do seu desenvolvimento, a revolução democrática se transforma diretamente em revolução socialista, tornando-se, pois, uma revolução permanente.”
—A Revolução Permanente
Em contrapartida, toda a nossa abordagem consistia em refletir sobre a forma como esta ou aquela questão democrática poderia ser “retirada” da agenda. Mas isto revelou-se mais complicado de fazer em regiões de povos interpenetrados, como a Irlanda do Norte ou Israel/Palestina, em que dois grupos nacionais têm reivindicações concorrentes de auto-determinação sobre o mesmo território. A tendência espartaquista criou assim uma “teoria” para os casos de povos interpenetrados. O nosso artigo seminal sobre a questão de Israel/Palestina postulava:
“Quando as populações nacionais estão geograficamente interpenetradas, como aconteceu na Palestina, um Estado-nação independente só pode ser criado através da sua separação forçada (transferências forçadas de população, etc.). Assim, o direito democrático de autodeterminação torna-se abstrato, pois só pode ser exercido se o grupo nacional mais forte expulsar ou destruir o mais fraco.
“Nestes casos, a única possibilidade de uma solução democrática reside numa transformação social.”
—“Nascimento do Estado Sionista, segunda parte: A Guerra de 1948”, Workers Vanguard n. 45, 24 de maio de 1974
Era claramente impossível “retirar” a questão nacional da ordem do dia em lugares como Belfast ou Gaza. Por isso, proclamámos a necessidade de uma revolução. Mas a questão mantém-se: como é que uma revolução pode acontecer aí? Todo o programa subjacente à “teoria” dos povos interpenetrados consistia em proclamar a necessidade da revolução socialista, rejeitando simultaneamente a necessidade de colocar a luta de libertação nacional dos palestinianos e dos católicos irlandeses no centro da nossa estratégia revolucionária. Em vez disso, a revolução socialista é vista como um processo em que ambos os grupos nacionais abandonam os seus sentimentos nacionais em favor da unidade nas exigências económicas e da solidariedade liberal.
Qualquer “marxista” que pense que a luta de libertação nacional é um espinho no pé na revolução e que deve ser posta de lado para se lutar pelo socialismo está, na melhor das hipóteses, condenado à irrelevância ou, na pior, é um agente do opressor no poder que exige que os oprimidos abandonem as suas aspirações nacionais como condição prévia para a unidade. A única forma de uma revolução acontecer em Israel/Palestina ou na Irlanda do Norte é através de uma revolta pela libertação nacional dos palestinianos e dos católicos irlandeses, que não afectaria os direitos nacionais dos protestantes e dos israelitas, mas emanciparia os trabalhadores da sua classe dominante e dos seus apoiantes imperialistas. É precisamente porque os nacionalistas irlandeses e palestinianos são incapazes de ter uma tal perspetiva, e se opõem a ela, que só uma liderança comunista pode conseguir uma resolução justa e democrática para o problema nacional.
Num sinal de total impotência, as “Teses sobre a Irlanda”, um documento fundamental que elabora o nosso ponto de vista sobre o problema nacional naquele país, afirma na sua primeira tese:
“Existe uma forte possibilidade de que uma solução justa, democrática e socialista para a situação na Irlanda só venha a surgir sob o impacto da revolução proletária noutros locais e, concretamente, possa ser levada pelas baionetas de um Exército Vermelho contra a oposição de uma parte significativa de uma ou de ambas as comunidades da ilha.”
No que se refere à Palestina, os nossos artigos sublinharam constantemente que a revolução é muito provavelmente impossível enquanto não houver uma revolução num país vizinho. Declarar antecipadamente que não acreditamos realmente na possibilidade de uma revolução autóctone na Irlanda do Norte ou na Palestina e que não consideramos que a nossa intervenção desempenhe um papel vital e decisivo nessas regiões equivale a erguer uma faixa onde se lê: “Estamos falidos”.
A tarefa dos comunistas não é contrapor a luta pela libertação nacional à luta pelo socialismo, mas fundi-las. Uma tal perspetiva é inconcebível com a rigidez e a estreiteza de espírito que caracterizaram a abordagem da tendência espartaquista à questão nacional; ela requer o método e o programa da revolução permanente. A aplicação da revolução permanente não se restringe a países com um campesinato ou de desenvolvimento capitalista tardio. O seu método está no próprio coração do programa comunista moderno. A lição central que Marx e Engels tiraram das revoluções de 1848 na Europa foi a necessidade da liderança proletária das lutas democráticas e sociais. No final do seu “Discurso da Autoridade Central à Liga (Comunista)”, de março de 1850, Marx e Engels sublinharam que os trabalhadores
“têm de ser eles próprios a fazer o máximo pela sua vitória final, esclarecendo-se sobre os seus interesses de classe, tomando quanto antes a sua posição de partido autónoma, não se deixando um só instante induzir em erro pelas frases hipócritas dos pequeno-burgueses democratas quanto à organização independente do partido do proletariado. O seu grito de batalha tem de ser: a revolução em permanência.”
Leninismo vs. LCI sobre o nacionalismo: Revolução permanente vs. indignação liberal
Uma questão central da revolução para a maioria dos países do mundo é a superação das divisões nacionais. Esta questão é particularmente complexa nos países de desenvolvimento tardio, onde a nação dominante (ou grupo étnico ou religioso), embora oprimida pelo imperialismo, é também a opressora das nações minoritárias. É o caso da Índia, do Irão e da Turquia, para citar apenas alguns. O texto seguinte, retirado de um artigo sobre o Próximo-Oriente, exemplifica a nossa abordagem a esta questão:
“Não esqueçamos que os árabes palestinianos são vítimas do nacionalismo do oprimido tornado opressor. No Birundi [sic], se o golpe de Estado dos hutus contra a minoria dominante dos Tutis [sic] tivesse sido bem sucedido, o tribalismo dos oprimidos ia ter-se traduzido no nacionalismo genocida do opressor. Todo o nacionalismo é reacionário, pois o nacionalismo bem sucedido é igual a genocídio.”
—“Nacionalismo assassino e traição estalinista no Oriente-Próximo”, Workers Vanguard n. 12, outubro de 1972
Isto elimina qualquer contradição no nacionalismo da nação dominante nos países oprimidos. O genocídio dos tutsis no Ruanda, em 1994, é a realidade do nacionalismo hutu. No entanto, o nacionalismo hutu não é fundamentalmente o mesmo que o nacionalismo americano ou francês—é o produto da violação imperialista belga, depois francesa e agora americana da região. É, em parte, uma resposta reacionária a esta realidade. O conflito Hutu-Tutsi não pode ser corretamente abordado nem resolvido fora deste entendimento.
A mesma abordagem esteve subjacente ao nosso trabalho sobre a revolução iraniana de 1979, no qual equiparámos a oposição ao Xá liderada pelos mulás a Hitler e ao Ku Klux Klan!
“Todas as forças de oposição à monarquia na sociedade iraniana, incluindo o proletariado organizado e a esquerda, tinham-se juntado atrás de Khomeini. Mas o núcleo do movimento de Khomeini eram os mullahs (o clero muçulmano xiita, com 180.000 efectivos) e os bazaaris, a classe mercantil tradicional que estava a ser esmagada pela modernização do país. Esta classe social tradicional está condenada pelo progresso económico e, por isso, é naturalmente propensa à ideologia reacionária e às suas expressões políticas.
“Para os oportunistas, é impensável que possa haver uma mobilização de massas reacionária contra um regime reacionário. No entanto, a história oferece exemplos de movimentos de massas reacionários. Adolf Hitler organizou um movimento de massas indubitável que derrubou a República de Weimar. Nos Estados Unidos, na década de 1920, o Ku Klux Klan era uma organização dinâmica e crescente, capaz de mobilizar dezenas de milhares de activistas nas ruas.”
—“O Irã e a esquerda: por que eles apoiaram a reação islâmica”, Workers Vanguard n. 229, 13 de abril de 1979
Os mullahs são reacionários: o regime islâmico no Irão é anti-mulher, anti-sunita e contra os direitos nacionais de todos os povos não persas dentro das fronteiras do Irão. No entanto, os mullahs foram uma resposta reacionária à pilhagem imperialista do Irão que a monarquia Pahlavi facilitou. Era impossível minar o apelo popular dos mullahs sem reconhecer esta realidade. A implicação da nossa propaganda era intervir entre os participantes na revolta de 1979, dizendo àqueles que tinham ilusões na liderança islamista que estavam a seguir um movimento de tipo hitleriano!
Todo o nosso enquadramento negava o facto da luta das massas persas para se libertarem do jugo imperialista ser uma luta progressista. A nossa tarefa consistia em explicar que, enquanto permanecesse nas garras dos mullahs, seria necessariamente dirigida contra as minorias nacionais e outras minorias, conduzindo à sua perseguição e, ao mesmo tempo, minando a libertação da própria maioria persa. A única maneira de quebrar o domínio dos mullas era mostrar concretamente como a sua liderança era um obstáculo às aspirações legítimas e progressivas das massas de se libertarem do Xá e do imperialismo.
O seguinte texto de Engels, embora se refira à opressão da Polónia pela Alemanha, aplica-se plenamente a países como o Irão, que são simultaneamente oprimidos e opressores:
“Nós, democratas alemães, temos um interesse especial na libertação da Polónia. Foram os príncipes alemães que tiraram grandes vantagens da divisão da Polónia e são os soldados alemães que ainda mantêm a Galiza e Posen. A responsabilidade de remover esta desgraça da nossa nação recai sobre nós, alemães, e sobretudo sobre nós, democratas alemães. Uma nação não pode tornar-se livre e, ao mesmo tempo, continuar a oprimir outras nações. A libertação da Alemanha não pode, portanto, ter lugar sem a libertação da Polónia da opressão alemã. E por isso, a Polónia e a Alemanha têm um interesse comum, e por isso, os democratas polacos e alemães podem trabalhar juntos para a libertação de ambas as nações.” [sublinhado nosso]
—“Sobre a Polónia” (novembro de 1847) [Tradução do texto em inglês]
Em países como o Irão ou a Índia, a sua libertação da subjugação imperialista não pode acontecer enquanto as nacionalidades e os povos minoritários desses estados continuarem a ser sujeitos à opressão da nação dominante. Esta última tem “um interesse especial” na libertação das minorias oprimidas e deve tornar-se a sua defensora mais consequente, pois sem isso a sua própria libertação não pode avançar um passo. Porquê? Uma vez que é o imperialismo o responsável pelo estado de miséria das massas, e uma vez que foi o imperialismo que arquitectou a miríade de divisões, forçando nações e povos a entrar em fronteiras arbitrárias, os trabalhadores devem unir-se em oposição ao próprio imperialismo. É do interesse objetivo dos trabalhadores e camponeses persas que trabalham num país sufocado por sanções imperialistas defender a libertação dos seus irmãos e irmãs curdos, baluchis e azeris como parte da sua própria luta pela libertação. Isto inclui a defesa do seu direito à auto-determinação, ou seja, à secessão.
Quanto mais agressivamente os revolucionários do povo dominante (por exemplo, os turcos na Turquia ou os persas no Irão) defenderem os direitos nacionais dos povos oprimidos nos seus respectivos países, mais serão capazes de destruir as maquinações de divisão e conquista dos imperialistas. Isso atrapalharia as manobras dos EUA para transformar os oprimidos numa peão para o imperialismo, como no caso dos curdos sírios.
Isto era completamente alheio à nossa perspetiva, que fez desaparecer o facto de a opressão imperialista ser o combustível do nacionalismo. Por exemplo, no nosso trabalho sobre o Sri Lanka, rejeitámos todas as medidas tomadas pelo regime do Partido da Liberdade do Sri Lanka de Bandaranaike como motivadas pelo chauvinismo anti-Tamil ou como insignificantes, negando que incluíssem afirmações de soberania nacional contra o imperialismo. Numa polémica contra o apoio da burocracia chinesa ao regime de Bandaranaike, escrevemos:
“Os chineses estão reduzidos a descrever a declaração da República do Sri Lanka, ela própria um apelo explícito e demagógico ao chauvinismo cingalês, como ‘uma vitória significativa conquistada pelo seu povo na sua luta prolongada contra o imperialismo e pela salvaguarda da independência nacional’.” [sublinhado nosso]
—“A ‘Frente Unida Anti-Imperialista’ no Ceilão”, Young Spartacus n. 19, setembro-outubro de 1973
Não há dúvida de que o regime de Bandaranaike alimentou o chauvinismo anti-Tamil. No entanto, a partir deste reconhecimento correto, passámos a combater o nacionalismo cingalês, negando que ele fosse, à sua maneira sangrenta e reacionária, uma resposta ao domínio britânico da ilha. Isto levou-nos a rejeitar a própria proclamação da República do Sri Lanka, que cortava os laços com a monarquia britânica!
No caso do Sri Lanka, qualquer defesa dos Tamil que não parta da oposição ao imperialismo reflectirá uma perspetiva imperialista liberal. Esta é a cartilha que os imperialistas usam em todo o lado: exploram a situação das minorias para promover os seus interesses, varrendo para debaixo do tapete o facto de toda a situação existir devido ao seu domínio. O Sri Lanka não é diferente. Com a perspetiva que tínhamos, um pequeno núcleo que procura tornar-se um partido revolucionário não pode sequer começar a encontrar um ponto de apoio entre os trabalhadores da nação dominante e só pode reforçar o domínio dos nacionalistas sobre eles. E na medida em que apela aos tâmeis oprimidos, não seria do seu interesse, uma vez que não ajudaria a ultrapassar os antagonismos nacionais ou a avançar uma luta comum contra o opressor tanto dos tâmeis como dos cingaleses: o imperialismo. Por outras palavras, seria—e de facto foi—um programa liberal-imperialista para os tâmeis (protesto contra a sua opressão) e um programa liberal-imperialista para os cingaleses (tratar melhor os tâmeis!).
Nos países oprimidos, o chauvinismo da nação dominante imposto às minorias resulta, em parte, do enfraquecimento face à pilhagem imperialista. Quanto mais a luta contra o imperialismo é travada, mais a nação dominante se volta contra as minorias internas, sejam elas nacionais, religiosas ou outras. No fundo, isto deve-se à realidade dos países sob a bota do imperialismo: se o desenvolvimento material não ocorre à custa dos imperialistas, tem de ocorrer à custa dos trabalhadores e das minorias oprimidas dentro da neocolónia. A burguesia nacional é capaz de desviar a raiva contra a situação miserável e o subdesenvolvimento jogando com sentimentos nacionais e religiosos, mantendo o país dividido. Pelo contrário, quanto mais forte for a oposição dos povos de um país oprimido ao imperialismo, seu opressor comum, mais estreita será a unidade entre eles e mais fraco será o chauvinismo do grupo dominante.
O principal inimigo é o imperialismo
A tendência espartaquista procurou combater o nacionalismo burguês argumentando que, nas neocolónias e nas nações oprimidas, o principal inimigo dos trabalhadores e dos oprimidos era a burguesia nacional. Em relação ao México, que está diretamente sob a bota do imperialismo americano e cuja vida interna é definida em todos os sentidos por esta opressão, escrevemos: “Nós, espartacistas, insistimos que no México o inimigo principal está em casa: é a burguesia mexicana, lacaia do imperialismo” (“México: O homem do NAFTA tem os operários em seu alvo”, Workers Vanguard n. 748, 15 de dezembro de 2000). Num artigo sobre a Irlanda do Norte, com o título estúpido “Não verde contra laranja, mas classe contra classe!” (Workers Vanguard n. 7, abril de 1972), damos uma lição:
“Todos os capitalistas são inimigos de todos os trabalhadores em todo o lado, mas a principal batalha dos trabalhadores de uma nação deve ser sempre contra a sua própria burguesia—só assim oferecem aos seus irmãos de classe no estrangeiro uma promessa séria do seu internacionalismo, de que não estão ao lado dos seus próprios capitalistas, mascarando a sua posição com frases de luta de classes, contra os trabalhadores de outros países.”
Tomando como ponto de partida a “independência de classe”, este argumento filisteu nega que, nos países neocoloniais, o inimigo principal é o imperialismo, e não a fraca burguesia nacional que, como nós próprios notámos, está reduzida ao papel de mero lacaio. Os nacionalistas e vários grupos de esquerda utilizam esta verdade para justificar o seu apoio à burguesia nacional. Mas pôr um signo de menos onde os nacionalistas põem um de mais não faz avançar a luta para libertar as massas do nacionalismo. Pelo contrário, tal abordagem só pode desacreditar os comunistas aos olhos dos trabalhadores e camponeses e construir os nacionalistas como o único representante das aspirações nacionais das massas contra a dominação estrangeira. Simplesmente capitula perante o imperialismo.
Nas últimas décadas, a LCI absteve-se de usar “o principal inimigo está em casa” para o México. O camarada Jim Robertson argumentou, no início dos anos 2000, que deveríamos parar de fazer esse apelo, dada a pilhagem nua e crua do México pelas mãos dos EUA. No entanto, o conteúdo deste slogan continuou a ser o princípio orientador do nosso trabalho nesse país. Por exemplo, pouco depois desta intervenção, o camarada Ed C. defendeu que no México a nossa tarefa consistia em “liderar a nação na luta contra o domínio imperialista”. Foi fortemente denunciado numa moção pela direção da nossa secção americana:
“No que diz respeito ao México, um partido de trabalhadores que não é guiado por uma perspetiva revolucionária, internacionalista e proletária, mas que, em vez disso, abraça como sua principal tarefa ‘liderar a nação na luta contra a dominação imperialista’, seria um partido que se esquiva de cumprir o seu programa proletário—ou seja, seria pelo menos tacitamente menchevique. Não haveria razão para tal partido manter a sua independência de classe.”
Isto não é apenas um repúdio total da revolução permanente, mas é de facto uma inversão do estalinismo, que, em nome da luta contra o imperialismo, subordina o proletariado a uma aliança com a burguesia. A referida moção, em nome da independência de classe, abandona completamente a luta contra o imperialismo. Quer se trate do estalinismo ou do Bureau Político da SL/U.S., o resultado é o mesmo: a luta contra o imperialismo fica nas mãos dos nacionalistas burgueses. Esta conferência afirma que “liderar a nação na luta contra a dominação imperialista” é a tarefa dos comunistas nas neocolónias.
O desenvolvimento nacional das nações oprimidas é historicamente progressivo
O desenvolvimento do Estado-nação na Europa durante os séculos XVII-XIX desempenhou um papel progressivo na eliminação das estruturas feudais e na consolidação do capitalismo. Mas na era do imperialismo, o capital ultrapassou as fronteiras do Estado-nação. O imperialismo significa a extensão e o aprofundamento da opressão nacional numa nova base histórica. Por conseguinte, embora a natureza progressiva dos movimentos nacionais nas potências imperialistas seja uma coisa do passado, nas nações oprimidas, os movimentos nacionais, bem como o desenvolvimento e a consolidação do Estado-nação, ainda desempenham um papel histórico progressivo, na medida em que são dirigidos contra a subjugação imperialista.
Contrariamente a esta verdade marxista básica, a tendência espartaquista defendia que a consolidação e a unificação nacionais são agora reacionárias em todo o lado. Este era um dos pilares políticos da nossa secção sul-africana e um dos pontos centrais de Polêmicas da esquerda sul-africana, um dos seus documentos fundadores. Na polémica contra os nacionalistas negros, defendemos que a assimilação nacional foi um desenvolvimento progressivo na Europa durante os séculos XVII-XIX:
“No entanto, hoje em dia, em África e na Ásia, as fracas burguesias nativas, dependentes e agrilhoadas pelo imperialismo, não conseguem transformar estes Estados neocoloniais em sociedades industriais modernas. Assim, a ‘construção da nação’ torna-se sinónimo de opressão dos grupos nacionais e étnicos pelos povos dominantes.”
—“Carta ao Movimento Nova Unidade” (28 de fevereiro de 1994)
A África do Sul é um país brutalmente oprimido pelo imperialismo, onde uma pequena camarilha de capitalistas brancos domina as massas negras que foram divididas à força em bantustões—territórios criados pelos governantes do apartheid para segregar os negros africanos com base na sua etnia. Tal como no resto do continente, as fronteiras sul-africanas foram artificialmente traçadas pelos opressores coloniais, que criaram um sistema de segregação rígida para controlar a mão de obra negra superexplorada. Opor-se às aspirações dos povos negros africanos à construção de uma nação e à unidade contra a sua divisão forçada era simplesmente reacionário, alinhando-nos com o verdadeiro “povo dominante”: a classe dominante branca sul-africana apoiada pelos imperialistas. A chave para forjar um partido revolucionário na África do Sul é precisamente a luta pela liderança comunista da luta de construção da nação contra a opressão imperialista, expondo como os nacionalistas negros são um obstáculo neste caminho.
No México, para contrariar as ilusões generalizadas sobre Cárdenas e o populismo, a secção da LCI, o Grupo Espartaquista de México (GEM), recorreu a simplesmente denunciar Cárdenas. Atacámo-lo porque “a sua intenção era modernizar o país em benefício da burguesia mexicana” e porque o seu legado “foi a consolidação do regime burguês mexicano” (“México: O homem do NAFTA tem os operários em seu alvo”). O desenvolvimento nacional do México contra a subjugação imperialista, mesmo sob o domínio burguês, é de facto altamente progressivo. A falência de negar isto é, de facto, evidente no nosso próprio artigo. Escrevemos:
“A famosa ‘educação socialista’, institucionalizada na Constituição dois meses antes de Cárdenas tomar o poder, não tinha outro objetivo senão o de elevar o nível de educação dos pobres e dos trabalhadores para os tornar mais aptos para o trabalho assalariado e mais produtivos para a burguesia.” [Tradução do texto em inglês]
Milhões de operários e camponeses aprenderam a ler e a escrever graças a essa reforma. A ideia de que eles se desvaneceriam das suas ilusões em Cárdenas porque nós assinalámos que a reforma era apenas um estratagema para os tornar “aptos para o trabalho assalariado” é simplesmente grotesca. A única reforma de Cárdenas que não podíamos denunciar era a nacionalização do petróleo e dos caminhos-de-ferro, porque Trotsky a saudava. Argumentámos também que a Revolução Mexicana foi apenas uma orgia de reação e que mesmo a independência do México de Espanha “tinha um cheiro caraterístico de contrarrevolução” (ver a moção da conferência do GEM que desenvolve esta questão em El Antiimperialista n. 1, maio de 2023).
Os marxistas apoiam e lutam pelo desenvolvimento nacional das nações subjugadas. Isso inclui a consolidação da unidade nacional na medida em que ela é dirigida contra o imperialismo. Negar a natureza progressiva do desenvolvimento nacional de um país oprimido sob o pretexto de que a burguesia é uma classe reacionária é simplesmente uma capitulação perante o imperialismo. Para contrariar os nacionalistas, os comunistas, mantendo a total independência de classe, devem apoiar medidas progressistas que façam avançar a soberania e o desenvolvimento dos países oprimidos e procurar mobilizar as massas de forma independente para as levar por diante. A ascensão dos trabalhadores e camponeses está destinada a mostrar à vista de todos que nacionalistas como Cárdenas, ou López Obrador hoje, são de facto inimigos da libertação das neocolónias e que as aspirações das massas clamam pela liderança comunista da luta anti-imperialista.
Os trotskistas são os melhores lutadores pela democracia
Um dos exemplos mais flagrantes de contrapor a luta pelo socialismo à luta pela democracia é a linha adoptada pela nossa tendência em 2011, rejeitando a convocação de uma assembleia constituinte como errada em quaisquer circunstâncias (ver “Por que rejeitamos a exigência de uma ‘Assembleia Constituinte’”, Spartacist [edição em inglês] n. 63, inverno 2012-13). Esta posição foi tomada na sequência da Primavera Árabe, quando milhões se revoltaram contra um regime ditatorial de décadas e vários grupos de esquerda exigiram a convocação de assembleias constituintes numa base oportunista. De uma forma rígida e sectária, para compensar a nossa falta de perspetiva das massas árabes, recorremos à denúncia na totalidadeda convocação de uma assembleia constituinte, contrapondo... a revolução socialista.
Para compreender o revisionismo profundo desta linha, é necessário compreender o que é a convocação de uma assembleia constituinte. É a convocação de um órgão cujo objetivo é estabelecer uma nova constituição. Como o nosso artigo assinalou, remonta à Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional resolveu as tarefas democráticas centrais—abolição da monarquia, abolição do feudalismo, redistribuição das terras e alargamento do sufrágio masculino. Trata-se, portanto, de uma exigência democrática. Em países de desenvolvimento capitalista tardio, sem democracia formal, onde as massas são privadas de direitos e sofrem sob prolongados regimes ditatoriais ou bonapartistas, como vastas áreas do Próximo-Oriente, África e América Latina, esta exigência anima milhões de pessoas.
No entanto, rejeitámo-la com este argumento:
“Ao contrário de exigências como a autodeterminação nacional, a igualdade das mulheres, a terra para o lavrador, o sufrágio universal ou a oposição à monarquia—qualquer uma ou todas elas podem ser cruciais para reunir as massas em torno das lutas do proletariado—a assembleia constituinte não é uma exigência democrática mas um apelo a um novo governo capitalista. Dado o carácter reacionário da burguesia, tanto no mundo semicolonial como nos estados capitalistas avançados, não pode haver um parlamento burguês revolucionário. Assim, o apelo a uma assembleia constituinte é contrário à perspetiva da revolução permanente.” [sublinhado nosso, tradução do texto em inglês]
Esta é uma espécie de racionalismo burguês. A partir da premissa correta de que a burguesia é uma classe reacionária do ponto de vista da história mundial, deduzimos o carácter contrarrevolucionário da assembleia constituinte em todos os momentos. É precisamente devido ao carácter reacionário da burguesia que cabe aos comunistas tomar a dianteira na luta pelas aspirações democráticas das massas, a fim de as concretizar. Enquanto as massas olharem para o parlamentarismo burguês e virem numa assembleia constituinte a possibilidade de fazer avançar as suas aspirações, o dever dos revolucionários é entrar nesta luta e estabelecerem-se como os mais consistentes combatentes pela democracia, expondo ao mesmo tempo às massas a falência do parlamentarismo burguês e motivando a necessidade de um governo soviético. Rejeitar a convocação de uma assembleia constituinte é deixar a revolução democrática nas mãos da burguesia, que usará os sentimentos democráticos das massas para subordiná-las aos seus próprios interesses de classe. Como o Programa de Transição de 1938, o programa da Quarta Internacional, explica:
“É impossível rejeitar pura e simplesmente o programa democrático: é necessário que as proprias massas ultrapassem este programa na luta. A palavra-de-ordem de assembléia nacional (ou constituinte) conserva todo seu valor em países como a China ou a India. É necessário ligar, indissoluvelmente, esta palavra-de-ordem às tarefas de emancipação nacional e da reforma agrária. É necessário, antes de mais nada, armar os operários com esse programa democrático. Somente eles poderão sublevar e reunir os camponeses. Baseados no programa democrático e revolucionário é necessário opor os operários à burguesia ‘nacional’.
“Em certa etapa da mobilização das massas sob as palavras-de-ordem da democracia revolucionária, os conselhos podem e devem aparecer.”
Mas os espartaquistas queriam ir diretamente aos sovietes, esquecendo no processo a necessidade de unir os operários e os camponeses e de os opor à burguesia nacional!
O argumento mais forte contra a nossa rejeição da convocação de uma assembleia constituinte é a própria Revolução de outubro de 1917. A lógica do nosso argumento significa que os bolcheviques conduziram a primeira revolução operária bem sucedida da história apesar de terem apelado à criação de “um novo governo capitalista”. Tomámos a dissolução da assembleia constituinte pelos bolcheviques após o estabelecimento do poder soviético como “prova” de que nunca a deveriam ter convocado. Na verdade, a convocação de uma assembleia constituinte desempenhou um papel central na ascensão dos bolcheviques ao poder. Eles utilizaram a convocação para mobilizar o campesinato e expor o Governo Provisório, que sempre procurou adiar a sua convocação. Basta citar o ponto número um das “Teses sobre a Assembleia Constituinte”, escritas por Lenin em dezembro de 1917:
“A reivindicação da convocação da Assembleia Constituinte entrou muito justamente no programa da social-democracia revolucionária, porque numa república burguesa a Assembleia Constituinte é a forma superior do democratismo e porque, ao criar o pré-parlamento, a república imperialista com Kérenski à cabeça preparava uma falsificação das eleições e uma série de violações do democratismo.”
Só um formalista poderia ver a convocação de uma assembleia constituinte como uma contraposição aos sovietes de todos os tempos e lugares. Pelo contrário, a convocação de uma assembleia constituinte é uma cunha a ser colocada entre as massas e os seus líderes equivocados, a fim de ganhar as primeiras para a perspetiva do poder soviético. Os bolcheviques dissolveram a assembleia constituinte apenas depois de o poder soviético ter sido estabelecido, ou seja, apenas no momento em que as massas tinham ultrapassado o programa democrático em luta e quando a assembleia se tinha tornado um instrumento contrarrevolucionário.
O argumento central do artigo do Spartacist sobre a experiência da China e a convocação de uma assembleia constituinte é uma compilação de calúnias de vários graus. Argumentamos que os escritos de Trotsky entre 1928 e 1932—quando ele levantou novamente a palavra de ordem por uma assembleia constituinte—são “confusos e contraditórios”, que ele levantou “erroneamente” essa palavra de ordem, se envolveu em “especulação” e “ignorou os muitos exemplos históricos em que a burguesia e seus agentes reformistas manejaram uma assembleia eleita como uma ferramenta contra um proletariado insurgente”. Trotsky lançou este apelo na China após a derrota da Revolução de 1925-27, contra o caminho sectário seguido por Estaline e pelo Comintern. Este apelo foi um meio crucial para restabelecer a autoridade do Partido Comunista da China (PCC) entre as massas trabalhadoras no período da ditadura militar contrarrevolucionária do Guomindang. Trotsky não estava “confuso”. Os seus escritos sobre a questão são claros como cristal. De facto, a nossa linha ecoou o Comintern de Estaline de 1928, que chamou oportunista a esta exigência e se recusou a levantá-la.
Esta conferência reafirma que o apelo a uma assembleia constituinte tem princípios. É claro que muitos reformistas abusam deste apelo, usando-o para construir ilusões na democracia burguesa. Este apelo, por si só, não é revolucionário. A sua elevação deve estar ligada a um programa revolucionário que aborde a emancipação nacional e a questão agrária de uma forma que una as massas e as contraponha à burguesia.
A questão nacional e a opressão estalinista
A tendência espartaquista foi confrontada frontalmente com a questão nacional na luta contra a contrarrevolução capitalista no bloco soviético, quando os imperialistas se aproveitaram da opressão da burocracia de Moscovo sobre as nações não russas para fomentar uma série de forças capitalistas-restauracionistas. A LCI se destacou por sua defesa incondicional dos Estados operários degenerados e deformados. No entanto, o seu próprio programa minou esta batalha ao rejeitar a luta contra a opressão nacional como força motriz da revolução política proletária, entregando esta arma aos imperialistas e aos seus agentes no terreno. O exemplo mais antigo e mais claro disto foi a luta nos anos 80 contra o movimento contrarrevolucionário Solidarność na Polónia, que se ergueu e consolidou o apoio na classe trabalhadora em grande parte com base na opressão nacional profundamente sentida pelas massas sob o domínio do Kremlin.
A Polónia tinha sofrido séculos de opressão nacional antes de o exército soviético avançar e criar um Estado operário a partir de cima, através da expropriação da burguesia após a Segunda Guerra Mundial. Essa reviravolta social foi uma grande vitória para os trabalhadores polacos e soviéticos que precisava de ser defendida incondicionalmente contra o imperialismo e a contrarrevolução. No entanto, tal como na Alemanha Oriental e em toda a Europa Oriental, o Estado operário polaco nasceu burocraticamente deformado sob o domínio da burocracia estalinista russa, que prosseguiu a opressão nacional da Polónia sob novas condições sociais. A razão para isto vai diretamente ao coração do programa estalinista de “socialismo num só país”. A revolução proletária num país, ou mesmo em vários países, abre o caminho para a verdadeira igualdade nacional e a assimilação das nações. Mas este resultado só será alcançado através da construção e do desenvolvimento de um sistema económico socialista mundial que finalmente vença o problema da escassez. Opondo-se à luta pela revolução mundial, que é a única forma de atingir essa etapa, os regimes estalinistas, de Moscovo a Pequim, defendem a posição privilegiada da nação dominante nas suas sociedades.
Com a extensão do domínio estalinista à Europa de Leste no pós-guerra, eram agora os “comunistas” que estavam a espezinhar os polacos, os húngaros e outros. Desde o início, os trotskistas precisavam colocar a luta pelos direitos nacionais e pela democracia proletária no centro de seu programa de poder político da classe trabalhadora para defender as conquistas da revolução social e estendê-las internacionalmente. Mas isso é precisamente o que a LCI rejeitou. Em vez de utilizar o sentimento de opressão nacional para motivar a necessidade de revolução política, rejeitámos esses sentimentos como contra-revolucionários até a medula, pintando as expressões de nacionalismo dos oprimidos como anti-semitas, clericais, anti-mulheres, nazis, etc. Isto estava em contradição flagrante com as lições da Hungria em 1956, quando uma revolução política operária em desenvolvimento tomou a forma de um levantamento nacional contra o estalinismo.
Resumindo a perspetiva da LCI à luz da queda da União Soviética, o documento da Conferência Internacional de 1992 afirmava: “O colapso da ordem estalinista pode levar a um de dois caminhos: ou uma revolução política proletária ou a uma contrarrevolução capitalista, dependendo da consciência política conjuntural da classe trabalhadora—a força relativa das aspirações socialistas contra as ilusões democrático-burguesas e o nacionalismo antissoviético” (Spartacist [edição em inglês] n. 47-48, inverno de 1992-93). Esta declaração tomou uma verdade essencial apenas para depois apresentar uma contraposição completa entre a consciência socialista e as aspirações nacional-democráticas. Quando os contra-revolucionários polacos lançaram a sua candidatura ao poder, em 1981, a tendência espartaquista teve razão em exigir: Parem a contrarrevolução Solidarność! A questão era como fazer isso.
O que era necessário era fundir as aspirações socialistas dos trabalhadores e a defesa dos seus direitos nacionais, contra os nacionalistas contra-revolucionários e os estalinistas. Para separar os trabalhadores do Solidarność, os trotskistas precisavam de explicar que o seu programa os levaria diretamente para a escravidão imperialista, aprofundando a sua opressão nacional, destruindo os ganhos sociais resultantes do derrube do capitalismo e destruindo também a perspetiva de unir os trabalhadores polacos e russos numa luta comum contra o desgoverno estalinista. Os trotskistas precisavam de contrapor um programa revolucionário-internacionalista que ligasse o apelo a uma república operária polaca independente com exigências para expulsar Jaruzelski e os burocratas do Kremlin e unir os trabalhadores polacos e soviéticos na luta contra o imperialismo.
Ao recusar-se a assumir a luta contra a opressão nacional, a tendência espartaquista não podia apresentar nada como esta perspetiva defensista revolucionária. Tudo o que podia oferecer às massas que se ressentiam do domínio de Moscovo eram apelos vazios à “unidade histórica” dos trabalhadores polacos e russos, combinados com a confiança na casta burocrática ossificada do Kremlin para defender o Estado operário. À medida que os regimes estalinistas polaco e soviético se movimentavam para travar o Solidarność, a tendência espartaquista virou o defensismo trotskista ao declarar:
Se os estalinistas do Kremlin, à sua maneira necessariamente brutal e estúpida, intervirem militarmente para o impedir, nós apoiaremos isso. E assumimos antecipadamente a responsabilidade por isso; quaisquer que sejam as idiotices e atrocidades que venham a cometer, não hesitaremos em defender o esmagamento da contrarrevolução do Solidariedade.”
—“Pare a contrarrevolução do Solidariedade”, Workers Vanguard n. 289, 25 de setembro de 1981
Tratava-se de uma declaração de apoio político à burocracia estalinista, totalmente oposta à mobilização dos trabalhadores na URSS e na Polónia para arrancar o poder político aos estalinistas, cujo programa minava a defesa de ambos os Estados operários.
Como justificativa “teórica” para sua capitulação ao estalinismo na questão nacional, a LCI declarou repetidamente que a autodeterminação e outras questões democráticas estavam subordinadas à defesa dos estados operários, uma “questão de classe”. Para ter certeza, há muitos exemplos históricos de forças apoiadas pelo imperialismo levantando a bandeira nacional-democrática como um ponto de encontro para a contrarrevolução, como os mencheviques fizeram na Geórgia durante a Guerra Civil Russa. Nesses casos, a defesa do Estado operário é a principal necessidade do momento, embora isso não apague a realidade da opressão nacional e a necessidade de a combater. No entanto, a LCI abusou dessa história para rejeitar a luta por direitos democráticos e nacionais nos Estados operários na sua totalidade. Isto foi contra a luta de Lenin para eliminar qualquer vestígio do chauvinismo da Grande Rússia no Estado operário soviético. Foi na Geórgia, pouco depois da derrota dos mencheviques, que Lenin travou a sua “última luta”, contra Estaline e os seus correligionários, que estavam a espezinhar ferozmente as profundas queixas georgianas contra a opressão russa. No que poderia ter sido uma polémica contra a LCI, Lenin escreveu:
“Deve ser feita necessariamente uma distinção entre o nacionalismo de uma nação opressora e o de uma nação oprimida, o nacionalismo de uma grande nação e o de uma pequena nação....
“O georgiano [referindo-se a Estaline e Ordzhonikidze] que negligencia este aspeto da questão, ou que lança descuidadamente acusações de ‘nacionalismo-socialismo’ (quando ele próprio é um verdadeiro e real ‘nacionalista-socialista’, e até mesmo um vulgar rufia grã-russo), viola, em substância, os interesses da solidariedade de classe proletária, pois nada impede tanto o desenvolvimento e o fortalecimento da solidariedade de classe proletária como a injustiça nacional; os nacionais ‘ofendidos’ não são tão sensíveis a nada como ao sentimento de igualdade e à violação dessa igualdade pelos seus camaradas proletários, nem que seja por negligência ou por brincadeira. É por isso que, neste caso, é melhor exagerar do que subestimar as concessões e a clemência para com as minorias nacionais. É por isso que, neste caso, o interesse fundamental da solidariedade proletária e, consequentemente, da luta de classe proletária, exige que nunca adoptemos uma atitude formal em relação à questão nacional, mas que tenhamos sempre em conta a atitude específica do proletário da nação oprimida (ou pequena) em relação à nação opressora (ou grande).”
—“A questão das nacionalidades ou da ‘autonomização’” (dezembro de 1922) [Tradução do texto em inglês]
Em oposição à luta de Lenin, a lição que a LCI retirou da contrarrevolução foi a de condenar, de forma redobrada, todas as expressões de sentimento nacional nos estados operários como contra-revolucionárias. Este foi o contexto para o documento adotado pelo Comité Executivo Internacional (CEI) em outubro de 1993 repudiando o apelo de Trotsky à independência da Ucrânia soviética (ver “Sobre a defesa de Trotsky de uma Ucrânia soviética independente”, Spartacist [edição em inglês] n. 49-50, inverno 1993-94). Trotsky apresentou esta questão como um apelo urgente à medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava, com o objetivo de canalizar os justos sentimentos nacionais das massas ucranianas que sofriam uma opressão brutal sob a bota de Estaline para a revolução política na União Soviética e para a revolução socialista nas regiões ocidentais da Ucrânia, então sob domínio capitalista. Exortou explicitamente os bolcheviques-leninistas (trotskistas) a defenderem esta causa como necessária para defender e alargar as conquistas de outubro contra os hitleristas e outros defensores contra-revolucionários do nacionalismo ucraniano.
A LCI não quis nada disso. O documento da CEI disfarçava timidamente a sua rejeição do apelo de Trotsky em termos de uma avaliação empírica da situação em 1939—por exemplo, Trotsky “sobrestimou as atitudes anti-soviéticas entre as massas ucranianas”, enquanto os nacionalistas ucranianos pró-nazis “nunca foram capazes de ganhar seguidores em massa”. Também falsificou flagrantemente a posição de Trotsky, insinuando que ele defendia uma revolução política “nacionalmente limitada à Ucrânia” quando, escrevemos, ela “precisaria desde o início de se estender, levando a uma luta decisiva contra a burocracia estalinista em toda a URSS”. Mas foi precisamente para promover a revolução política na URSS e a revolução socialista no Ocidente que Trotsky exigiu uma Ucrânia soviética independente!
A secção final do documento deixa claro que o objetivo dos seus argumentos tendenciosos era opor-se a todas as exigências de autodeterminação dirigidas contra a opressão estalinista. O documento observa que os movimentos nacionais que eclodiram nos últimos anos da União Soviética foram “desde o início organizados, promovidos e liderados por forças abertamente pró-capitalistas e pró-imperialistas” e foram “universalmente considerados como um meio para alcançar a restauração do capitalismo e a integração na ordem imperialista ocidental”. Mas é por essa razão que os trotskistas tinham o dever de travar uma luta comunista pelos direitos nacionais dos povos da Europa de Leste e das repúblicas constituintes da União Soviética, procurando libertar as massas de todas as forças pró-imperialistas e ganhá-las para um programa proletário-internacionalista.
É crucial que a LCI reverta seu repúdio ao apelo de Trotsky por uma Ucrânia soviética independente. Não se trata apenas de uma questão de registo histórico. Na China, os imperialistas há muito que se aproveitam da opressão han-chauvinista do PCC sobre os tibetanos, os uigures e outros para promover o derrube desse Estado operário. A abordagem programática de Trotsky é urgentemente necessária para intervir no sentido de canalizar as queixas nacionais dos tibetanos e dos uigures para longe dos reacionários e para a poderosa corrente de oposição proletária ao regime estalinista, defendendo o direito à autodeterminação como uma alavanca para a revolução política, para defender e alargar as conquistas da Revolução de 1949.
Por outro lado, não é suficiente simplesmente denunciar os estalinistas como “nacionalistas”, como fazia frequentemente a nossa antiga propaganda; o que é necessário é salientar que só uma direção trotskista pode unir as populações maioritárias e minoritárias numa luta comum contra a opressão nacional, o estalinismo, a contrarrevolução e o imperialismo. As massas chinesas, tal como as dos outros Estados operários deformados que ainda existem, estão economicamente subjugadas pelo imperialismo e estão na mira deles, e o seu nacionalismo é uma reação contra esta opressão. Nestas sociedades, os estalinistas apresentam-se como defensores da nação contra o imperialismo. Mas enquanto a criação de estados operários constituiu passos qualitativos para estabelecer a base para uma genuína libertação nacional, esta libertação tem sido dificultada a cada passo pelas burocracias estalinistas e sua confiança na “coexistência pacífica” com o imperialismo. Em suma, o estalinismo não é um programa para a libertação nacional.
Em meados dos anos 70, a tendência espartaquista foi desafiada no seu programa sobre a questão nacional e o imperialismo por Edmund Samarakkody do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (RWP) do Sri Lanka. Em cartas substanciais, Samarakkody identificou corretamente as principais deficiências do nosso programa, apontando a nossa incapacidade de distinguir entre nações oprimidas e opressoras, a nossa “identidade unilateral de interesses entre os imperialistas e a burguesia nativa” e a nossa negação de que o imperialismo é o “principal inimigo da classe trabalhadora mundial”. A sua carta de 1975 explicava:
“A partir da posição leninista-trotskista correcta de que as burguesias nacionais são agentes do imperialismo, a SL [Liga Espartaquista] tira a conclusão errada de que não há contradição entre as burguesias nacionais ou tais governantes feudo-capitalistas e os imperialistas. Assim, a SL conclui que o agente do imperialismo—a burguesia nacional—num país oprimido é o próprio imperialismo, e que a única luta nos países coloniais e semi-coloniais é a luta anti-capitalista, que não há luta anti-imperialista.”
—“Questão Nacional: RWP-SL/U.S. diferenças”, 31 de outubro de 1975, International Discussion Bulletin n. 7 (março de 1977)
As conclusões políticas que Samarakkody tirou sobre a Irlanda, Israel, Chipre e o Quebeque estavam erradas, e nós tínhamos outras divergências com o RWP. No entanto, ele estava essencialmente correto na sua crítica ao nosso método nesta questão. O seu desafio era uma oportunidade para a tendência espartaquista se reorientar fundamentalmente, mas, em vez disso, insistimos no nosso rumo revisionista, fechando-nos a uma potencial fusão com este grupo e com o próprio mundo neocolonial.
Só com a luta sobre a questão nacional em 2017 é que este quadro recebeu o seu primeiro golpe (ver Spartacist [edição em inglês] n. 65, verão de 2017). Derrubou décadas de propaganda chauvinista no Quebec e em outros lugares e apresentou, pela primeira vez, o entendimento crucial de que a luta pela libertação nacional é uma força motriz para a revolução. Mas o conteúdo político da luta de 2017 foi fundamentalmente defeituoso. Em primeiro lugar, foi moldado pela ilusão de que o líder histórico da nossa tendência, Jim Robertson, tinha uma abordagem correta da questão nacional e, por isso, defendeu muitas posições contrárias à revolução permanente. Em segundo lugar, não se pode falar de “leninismo sobre a questão nacional” sem se colocar a necessidade de uma direção comunista da luta pela libertação nacional. Uma vez que esta questão não desempenhou qualquer papel na luta de 2017, o velho programa foi simplesmente substituído por uma variante do liberalismo mais favorável às nações oprimidas. Finalmente, e mais importante, as discussões que abalaram o partido por mais de seis meses estavam totalmente divorciadas de tudo o que acontecia no mundo na época. Assim, a Sétima Conferência Internacional da LCI não fez nada para guiar o partido em suas intervenções no mundo.
A revisão da revolução permanente pela tendência espartaquista prejudicou todo o nosso trabalho em relação aos países oprimidos. Se revimos e corrigimos tanto da nossa história, é porque essa é uma condição prévia necessária para lutar pela liderança revolucionária na maior parte do mundo. Estamos a deitar fora a nossa lâmina sectária baça e a substituí-la pelo programa afiado do leninismo. A tarefa agora é empunhá-la. Como Trotsky advertiu:
“Pode ser considerado como uma lei que a organização ‘revolucionária’ que, na nossa época imperialista, é incapaz de criar as suas raízes nas colónias, está condenada a vegetar miseravelmente.”
—“Uma nova lição” (outubro de 1938) [Tradução do texto em inglês]